Foto: Reprodução/Facebook/Yvonne Bezerra
de Mello (Vítima de agressões, Yvonne Bezerra de Mello desiste das redes
sociais. “Coordenadora e fundadora do Projeto Uerê, musa do triste episódio da
chacina da Candelária, na década de 90, a artista plástica Yvonne Bezerra de
Mello deixou ontem o Facebook. Desde que impediu que o adolescente preso a um
poste do Morro da Viúva (Flamengo, zona sul do Rio) fosse linchado por jovens
da classe média, sua caixa de correspondência lotou com xingamentos e agressões
as mais diversas. Diante da virulência do ataque, ela anunciou que está se
retirando das redes sociais.” Veja a notícia aqui)
Fortaleza, anos
80. Era uma época em que ainda havia ladrões que roubavam roupas do varal e que
assaltavam usando apenas cacos de vidro como arma. Era também uma época
violenta, não se enganem. Havíamos acabado de “sair” da ditadura militar (para
entrar em outra, mas só viríamos saber disso depois), e aquele espírito que
misturava a ideia de virilidade, justiça, manutenção da ordem, violência e
territorialismo (o “-ismo” é proposital) permeava o inconsciente coletivo do
meu bairro, e o de todos os que estavam num “primeiro” anel periférico
imaginário da Fortaleza boa, a Aldeota, ou seja, de todos os bairros em que
havia gente pobre, mas não pobre o suficiente para serem chamados de favela.
Éramos pouco mais que remediados. Não se ouvia falar de ladrão que assaltava de
moto, que dirá, de carro. No máximo, de bicicleta. Era também época de
linchamentos, os quais eram particularmente efusivos, cheios de espírito de
coletividade, quase utópicos. Todos os homens disponíveis no momento e que
fossem capazes de correr o suficiente por uns 500m, reservando força suficiente
para lutar sozinho contra outro, recebia um chamado quase biológico para a
contenda. É claro que “sozinho” é força de expressão. Juntos, somavam mais de
vinte, sempre.
Lembro-me bem de
alguns casos. Houve um em que um adolescente magro e mulato foi capturado e
arrastado até o local do roubo, na rua perpendicular à minha, onde foi surrado
pelos homens familiares ou amigos da vítima. As mulheres sempre se dividiam em
incentivos à surra e apiedamentos suplicantes em prol do massacrado, embora
nenhuma interferisse nunca para uma coisa ou para outra. Depois da surra, veio
a humilhação. Um dos vizinhos, um dos maiores, mais fortes e mais famosos pelos
maus bofes que tinha, dono de uma oficina mecânica, apareceu com uma garrafa de
óleo queimado de motor, que nós lhe pedíamos às vezes para “envenenar” nossas
bolas Dente de Leite. Agarraram o adolescente, esfolaram sua cabeça enfiando-a
no vão de duas grades de ferro de um portão de modo que ele ficasse de costas
para a rua, sem poder ajoelhar-se nem ficar de pé. Naquela posição,
derramaram-lhe o óleo no corpo e começaram as lambadas com qualquer coisa que
não precisasse ser lavada depois. Chinelos, tábuas, até mesmo boladas foram
desferidas. Eu me lembro muito mais dos gritos dele do que da surra em si.
Pareciam-me os gritos de porco que me traumatizaram na infância, quando meu pai
me levava com ele para o Mercado São Sebastião, sempre muito cedo, e eu via bacorins
amarrados pelas quatro patas unidas debatendo-se no chão imundo e gritando
horrorosamente, talvez, que queriam viver. Eu me lembro também da sensação de
justiça e de limpeza que tomava conta de todos, inclusive de mim, e da euforia
excitante que era aquilo. Era como estar no limite, na corda bamba sobre o
fosso do errado. Era maravilhoso.
Sempre me
penalizava intimamente por não poder participar daquele ato cívico. Era muito
novo, não tinha força física o suficiente, não era ainda homem o bastante. Anos
mais tarde, aconteceu. Apareceu um homem também muito magro, negro,
visivelmente alterado, gritando palavrões na direção do baluarte da nobreza da
rua Gustavo Sampaio, a elite branca e varicosa que sempre sentava a bunda azeda
nas cadeiras de balanço da calçada da esquina: as famílias e os circunstantes
mais eméritos do meu bairro. Vale ressaltar que o “branco” não se refere à cor
da sua pele somente. Suas almas pareciam ter sido lavadas com cândida nas
caravelas. Seus narizes e olhares eram sempre judiciários, e seus gestos sempre
oscilavam entre a benevolência de atirar pães a mendigos e a fatalidade do
indicador apontado à imundície vicinal. Foi contra essa estirpe que o negro
gritou. Não me lembro do quê nem do porquê. Estávamos na calçada a umas cinco
casas de distância e vimo-lo tirar uma faquinha serrilhada de mesa não se sabe
de onde e riscá-la no asfalto. Apesar do gesto, ele não avançou contra ninguém.
Parecia estar marcando um território ou uma ideia, uma noção de que não tinha
coxas brancas varicosas, cadeiras de balanço nem bunda azeda que nelas
assentasse, mas sim uma existência, que comprovava a todos com os gritos e com
a faca. Já íamos resolver aquele desequilíbrio estamental na mão, quando vimos
a faca. Um de nós pegou da bicicleta e foi à guarita da PM, a fim de chamar a ordem a
cumprir sua função. O negro magro percebeu. Começou a andar desconfiado como
quem pressente, sem largar a faca, mas gritando menos. O policial chegou, e
finalmente, deu-se o espetáculo. Corremos todos como cães, dentes arreganhados,
ávidos pela pele a ser rasgada. Pegamo-lo. Apanhou de todos por um minuto, mais
ou menos, menos, curiosamente, do policial, que não sabia sequer usar as
algemas. Fui eu que o algemei. Tomei-as da mão do PM e disse-lhe, expus-lhe
como era que se fazia. Quase quebrei o braço magro do homem nesse exercício de
virilidade, de civilidade e de justiça que simbolizava que eu fazia parte dos
meus pares, que eu era mais um capturador de maus elementos, mais um aplicador de penas, mais um justiceiro.
Ele foi preso,
mas não por muito tempo. Quando o vimos novamente, na rua, andava torto,
curvado, bodejando ofensas contra todos, porém mais baixas, mais sofridas, como
se aquilo fosse o que restara do grito e da faca, que também foram entortados e
diminuídos como a uma mola que nunca mais se expandiria, como se também
tivessem lhe entortado a alma, mas não o espírito.
A essa época, eu
já era outro. Já vinha me tornando outro. Desde quando, desde sempre, acho.
Havia em mim um asilamento, um caminho pela margem da matilha, consciente de
que não era dela, mas covarde demais para afastar-me. Busquei duas coisas a
minha vida inteira: ser de um grupo e ser eu mesmo. Nunca fui nenhuma.
Na faculdade,
enfim, em uma aula de Sociologia, o assunto do linchamento veio à tona. Alguns
falamos o que pensávamos, casos surgiram. Calei-me quanto a isso. O professor,
então, propôs um raciocínio. O que aconteceria com o linchado quando retornasse
à sociedade? Em meu silêncio, eu sabia. Porém, o meu linchado em questão não
era um bandido. O que nós havíamos feito foi tirar talvez para sempre a fé de
uma pessoa nas outras, em si, em sua própria existência. Nós havíamos lhe dado
o inferno. Quanto ao bandido, segundo o professor, deveríamos imaginar uma
situação bem simples: ele cometeria de novo o mesmo erro? “Não”, gritaram
alguns. “Ele aprendeu”. Aprendeu, obviamente, mas o quê? Não a mudar de vida.
Não a entender o conceito social de “honestidade”, inculcado nele a custa de
mãos e pés entrando por suas costelas. O que ele realmente aprendeu foi o que
lhe ensinamos: a semântica exata da palavra piedade. Temos piedade entre nós.
Com os nossos, com nós mesmos, somos ótimos em sentir piedade de nós mesmos. Mas, com ele, não.
A piedade foi o
que ele aprendeu a não ter. Nunca mais ele se colocaria de novo nas mãos de linchadores,
mas não porque aprendera o valor da honestidade. Ele só aprendeu que mãos
mortas não batem.
E, assim, aprendi
tão tardiamente o que tínhamos feito, o que meus vizinhos e pares tinham feito
a vida inteira. Nós havíamos pegado o ladrão de varal e, a custa da tortura
civil, do espírito coletivo do horror, transformamo-lo no que está aí hoje.
Perguntamos a
nós mesmos “de onde saiu tanta violência?”, “como pode alguém fazer isso?”, “por
que o Estado não toma providências?”. Não, não perguntamos a “nós mesmos”,
porque “nós mesmos” teríamos a resposta. Criamos um Estado pós-ditadura repleto
da representação de nosso espírito covarde, corrupto, desumano. Delegamos a
esse Estado o poder de “limpeza social” que adoraríamos ter sobre os locais
onde vivemos. “Bandido bom é bandido morto”, “reduzam a maioridade penal”, “implantem
a pena de morte” são o nosso verdadeiro brado retumbante. Nós, os covardes,
nós, os pseudofilósofos, nós, os que cruzamos os braços (mas mantemos os punhos
cerrados e uma mancha de conforto nos olhos por alguém estar matando por nós),
nós!
Foto: Google
Nesta semana,
fomos representados por uma voz televisiva. Alguém que disse o que cada “brasileiro
de bem” pensa sobre o que fizeram com o menor negro alvo de linchamento e preso
nu a um poste em via pública por uma tranca de aço para bicicleta (veja a
notícia aqui: “Adolescente é agredido a pauladas e acorrentado nu a poste no Rio”;
o vídeo, aqui: “Adote um bandido”; e
a apologia, aqui: “Direito de expressão”).
Não pode haver uma imagem melhor do espírito cívico do brasileiro.
Em uma mesma fotografia
(feita pela artista plástica Yvonne Bezerra de Mello), estão os ícones do crime
e do castigo. Do castigo, é óbvio, mas, do crime…? Para a “âncora” (adoro essa
catacrese, ela, em si só, já diz tudo sobre o telejornalismo) e para a grande
maioria dos brasileiros, o crime está tão vinculado ao jovem que, ao fazermos
uma analogia de outro comentário “cívico” também da autoria da “paladina”, este sobre a “crise
de pós-adolescência” de Justin Bieber, que foi preso nos Estados Unidos por dirigir
drogado e sem licença e resistir à prisão (assista ao vídeo aqui),
percebemo-lo claramente! Bieber é americano, branco, jovem, artista, rico,
lindo e idolatrado pelas fãzocas brasileiras. Bieber tem direitos que o jovem
negro e inominado pela menoridade jamais terá. O linchado brasileiro já nasceu
criminoso. Bieber tem o direito à piedade.
A “jornalista”
pergunta com a sua melhor cara de representante do brasileiro reacionário: “o
que resta ao cidadão de bem?”. Talvez, tornar-se, primeiro, cidadão; depois, se
possível, entender o que significa “bem”.
07/02/14



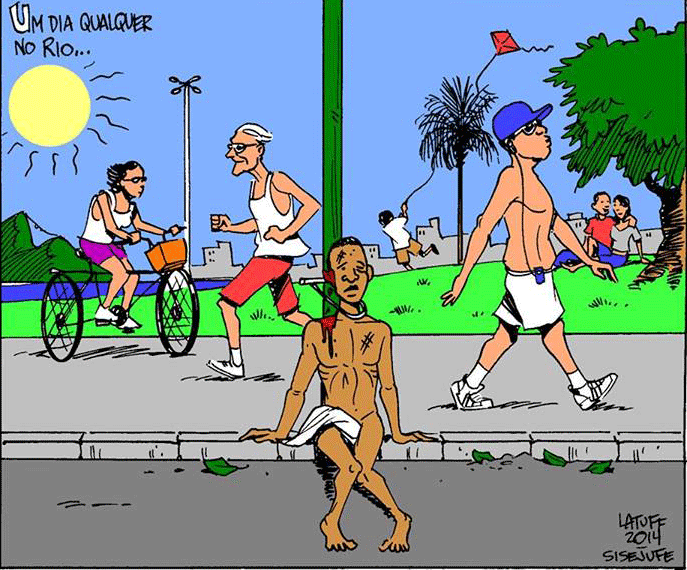
2 comentários:
Brilhante reflexão meu caro! Meus parabéns por palavras tão sóbrias.
Marcos Nery
Muito obrigado, Marcos Nery!
Postar um comentário